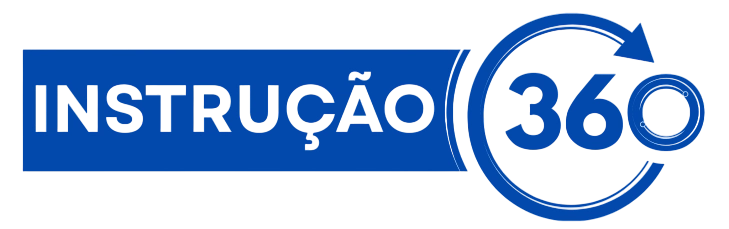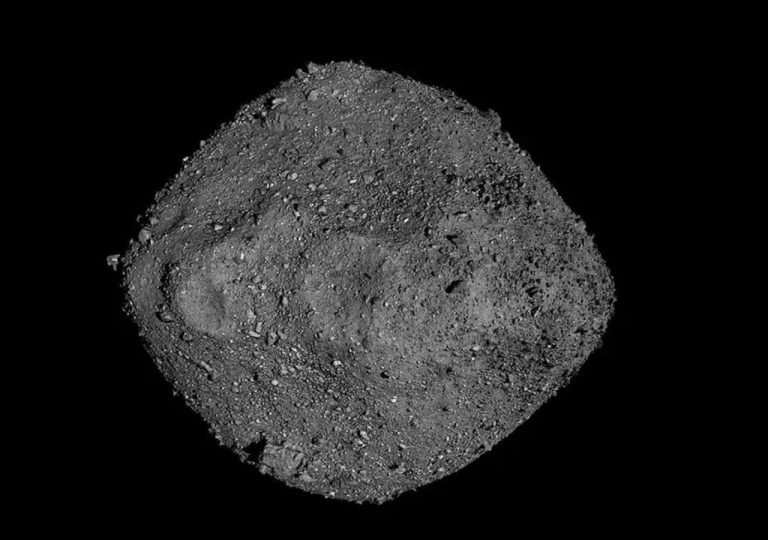Cop30 expõe desafios urbanos na amazônia, além do clima
Belém, a metrópole amazônica que sediará a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) em 2025, enfrenta uma grave crise urbana que vai além da falta de infraestrutura hoteleira. A cidade, localizada em um estado onde a maioria da população não tem acesso à coleta de esgoto, apresenta o segundo aluguel mais caro do Brasil, com um aumento significativo nos últimos meses. Mais da metade dos domicílios estão em favelas e comunidades, superando a média nacional.
Apesar de abrigar grandes hidrelétricas, a conta de luz é substancialmente mais cara do que a média do país. Outros problemas incluem desabastecimento de água, assentamentos precários, comunidades sob ameaça de remoção e um sistema de transporte público inadequado.
A ironia se intensifica com a execução de obras consideradas insustentáveis, destinadas a receber participantes que discutirão a sustentabilidade ambiental. Projetos rodoviários, implementados para melhorar a mobilidade, paradoxalmente reforçam o modelo urbano que agrava as mudanças climáticas. A construção de “eco-árvores” artificiais em um território amazônico também levanta questionamentos.
Enquanto o Brasil se prepara para sediar a “COP das Florestas”, surgem questões sobre a justiça climática e a necessidade de repensar a forma como construímos e vivemos nas cidades. Quais são os desafios específicos das cidades amazônicas? Poderão as cosmovisões ancestrais oferecer novos modelos de planejamento territorial, em oposição aos modelos urbanos tradicionais?
As cidades da Amazônia, embora compartilhem alguns problemas com outras regiões, possuem características únicas que demandam atenção especial. Uma grande extensão de terras públicas não destinadas, a grilagem e os altos índices de conflito por terra afetam diretamente as populações tradicionais.
O Observatório Amazonicidades destaca a complexa questão fundiária, marcada por intervenções estatais autoritárias que visam à expansão de latifúndios e à construção de infraestrutura para a exportação de commodities. Além da diversidade de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, a região abriga uma riqueza étnica ainda mais complexa, com camponeses, agricultores familiares e outros grupos que resistem às tentativas de apagamento.
Em uma região rica em água, a seca persistente causa paradoxos extremos. O transporte limitado, a infraestrutura fluvial subaproveitada e as estradas precárias restringem o acesso da população a serviços essenciais, intensificando o isolamento e as desigualdades. Esse cenário impulsiona a migração para as metrópoles, expandindo as ocupações informais e as periferias.
A política nacional de desenvolvimento urbano e os instrumentos existentes são insuficientes para lidar com os problemas específicos das cidades amazônicas, evidenciando a necessidade de um Estatuto das Cidades Amazônicas.
O Estatuto da Cidade, embora importante, apresenta lacunas ao não considerar as singularidades da região amazônica. A forte participação dos movimentos sociais rurais e o padrão de ocupação “miúdo, disperso e articulado” contrastam com a concepção do Estatuto, voltada para grandes centros urbanos.
O Observatório Amazonicidades apresentará um trabalho que pode fornecer insumos para a construção desse novo Estatuto, abordando temas como o projeto de integração do centro-sul do Brasil imposto aos povos amazônicos e o racismo institucionalizado no discurso do desenvolvimento. A agenda proposta pelo Observatório busca repensar a linha divisória entre campo e cidade, compreendendo as cidades médias como atores estratégicos e interiorizando o acesso a direitos sociais.
A criação de mecanismos de mediação de conflitos e o enfrentamento da questão fundiária estrutural são medidas urgentes. A Amazônia não carece de espaço, mas de uma gestão territorial eficaz que garanta o Direito à Moradia Digna. A superação do paradigma dos grandes projetos e a transição para uma economia baseada na “floresta em pé” são essenciais para criar circuitos locais de produção e consumo, integrando o urbano e o rural e tecendo uma nova relação entre a cidade e a floresta.
A ascensão da “intelectualidade indígena” e a presença de jovens das periferias e comunidades tradicionais nas universidades trazem novas perspectivas para o debate sobre as cidades brasileiras. Uma cidade com acesso próximo à natureza, águas vivas e espaços para reconexão beneficiaria a todos. Respeitar as áreas de várzea e investir na recuperação de rios poluídos são ações concretas que podem inserir perspectivas ancestrais no planejamento urbano.