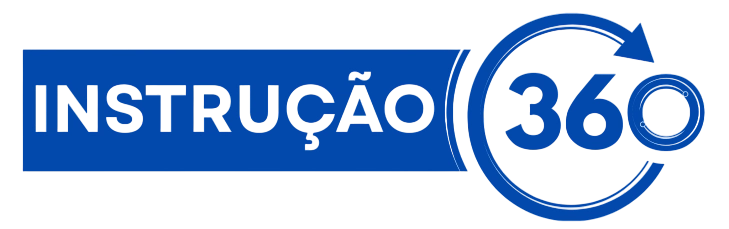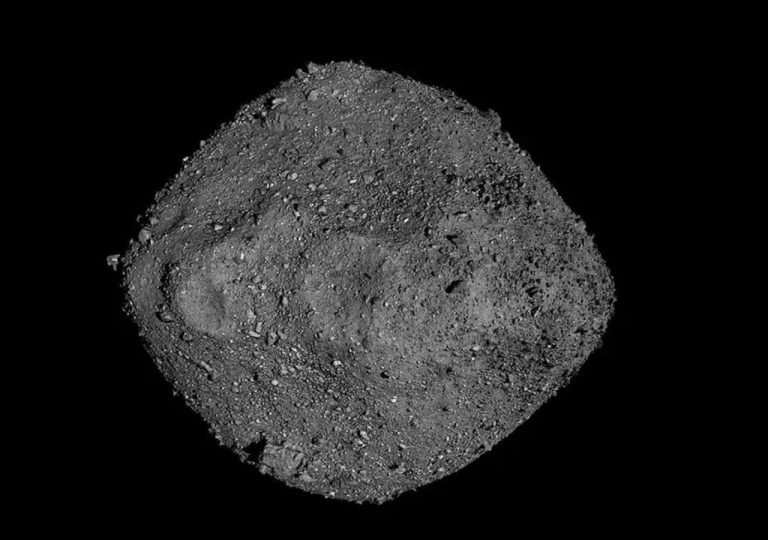Família em xeque: o futuro pós-capitalista do trabalho e do lar
Após o expediente, a jornada continua. Cozinhar, limpar, cuidar dos filhos ou de outros familiares, resolver as questões da casa. Essa rotina, quase sempre invisível nas estatísticas e raramente remunerada, é essencial para a manutenção da vida. Em “Depois do Trabalho. Uma História do Lar e a Luta pelo Tempo Livre”, Helen Hester e Nick Srnicek examinam esse território negligenciado: o tempo dedicado à reprodução da vida cotidiana.
O livro se junta a uma crescente discussão sobre alternativas ao capitalismo, trazendo uma perspectiva singular ao colocar o trabalho reprodutivo e as desigualdades de gênero no centro do debate. Em vez de adicionar um apêndice feminista à crítica do capital, Hester e Srnicek focam na vida doméstica como um espaço de exploração e, potencialmente, de libertação.
Adotando a perspectiva do pós-trabalho, que imagina um futuro com a abolição das atuais formas sociais, os autores destacam o trabalho reprodutivo não remunerado e as assimetrias de gênero, frequentemente deixados de lado em discussões semelhantes. Essa abordagem é a premissa central e a maior contribuição do livro.
A obra se divide em seis capítulos, explorando a fundo os eixos temáticos. O primeiro capítulo, “Tecnologias”, investiga por que a promessa de que a tecnologia aliviaria o trabalho reprodutivo nunca se concretizou. “Padrões”, o segundo capítulo, questiona as imposições que definem o ambiente doméstico e a moral implícita que os sustenta. A terceira parte, “Famílias”, analisa o papel dessa instituição como um componente adaptativo da ordem econômica. No capítulo “Espaços”, Hester e Srnicek questionam como expandir os princípios do pós-trabalho para o âmbito reprodutivo. Por fim, “Depois do Trabalho” apresenta medidas e orientações para a construção de um modelo alternativo de cuidado e uso do tempo.
O ensaio parte da premissa de que o trabalho assalariado é fundamentalmente desprovido de liberdade. A entrada no mercado de trabalho se dá por necessidade, sem alternativas reais, e o indivíduo fica sujeito à dominação pessoal e às lógicas do sistema. O objetivo dos autores não é apenas melhorar as condições do emprego existente, mas sim superá-lo.
Nesse contexto, as tarefas reprodutivas e de cuidado são compreendidas como uma forma de trabalho, que deve ser reduzida e redistribuída socialmente, permitindo a recuperação da “soberania temporal” – a capacidade coletiva de decidir como usar o tempo livre do trabalho necessário. Esse cenário exige uma reorganização social onde a acumulação não seja o princípio orientador.
Karl Marx é uma referência constante, ainda que sem adesão total às suas teses mais radicais. Nos “Manuscritos Econômicos e Filosóficos” de 1844, Marx alertava que uma comunidade só poderia se desenvolver espiritualmente ao romper com a escravidão das necessidades imediatas. Para Hester e Srnicek, o tempo livre é a condição para o desenvolvimento humano.
Em um paradigma analítico como este, a “alienação” é reatualizada num contexto contemporâneo, considerando as transformações do trabalho, as crises econômicas e as mudanças tecnológicas. O livro propõe reativar essa tradição crítica em diálogo com as condições sociais e econômicas atuais.
A crise financeira global de 2008 ocupa um lugar central nesse debate. Os autores argumentam que, embora a crise tenha trazido austeridade, desigualdade e sofrimento, também abriu espaço para novas esperanças e imaginações políticas, como buscas ecosocialistas, plataformas cooperativas e discussões sobre planejamento econômico.
A análise foca no olhar sobre a família, apontando que, em sua forma dominante (nuclear, heterossexual e privatizada), ela não apenas reproduz desigualdades, mas também se mostra ineficiente como dispositivo de organização social. A família funciona como um “amortecedor”, absorvendo responsabilidades transferidas pelo capital, e, por estar organizada em torno do parentesco biológico, exclui amplos setores da população.
Hester e Srnicek propõem uma alternativa baseada no “cuidado comunal”, com a criação de redes de vínculos compartilhados que transcendam o isolamento doméstico e possibilitem outras formas de convivência. O objetivo é organizar o cuidado de forma diferente do modelo privatizado, através de um “ecossistema de instituições” que descentralize, socialize e democratize as tarefas reprodutivas.
A análise se estende às disposições culturais que regulam a vida doméstica, como padrões de limpeza, ordem e criação, que operam como pilares morais e mecanismos de distinção.
Nesse contexto, a criação intensiva surge como um fenômeno recente, com a maternidade se aproximando do modelo atual ao longo do século XX. Historicamente, a infância como etapa dedicada à educação e ao desenvolvimento pessoal só se consolidou após a Segunda Guerra Mundial.
Essa organização doméstica, baseada na individualização do cuidado, impactou o desenvolvimento das tecnologias domésticas, que mecanizaram tarefas pontuais sem alterar a lógica geral das tarefas.
A dimensão de gênero é evidente nesse processo, com invenções primitivas que reduziram tarefas masculinas, mas expandiram as femininas, como preparar uma maior variedade de comidas ou lavar peças mais delicadas. A inovação técnica aliviou o esforço dos homens enquanto multiplicava as obrigações das mulheres.
Essa transição integra a passagem da casa como espaço de produção para a casa como espaço de consumo, onde a técnica não libertou, mas reconfigurou o trabalho sem questionar a sua repartição.
A tradição do feminismo materialista é crucial, enfatizando que “a jornada de trabalho da dona de casa é interminável não por não dispor de máquinas, mas porque está isolada”. O obstáculo é político e econômico, e nenhuma inovação conseguirá racionalizar o trabalho enquanto o cuidado permanecer privatizado.
O “paradoxo de Cowan” ilustra essa situação, com o tempo dedicado ao lar não se reduzindo significativamente apesar da proliferação de eletrodomésticos. A introdução de novas máquinas manteve e incrementou as exigências sociais vinculadas ao cuidado, redefinindo os padrões de limpeza, ordem e atenção.
Os autores de “Depois do Trabalho” questionam o que acontece quando não é possível ou desejável automatizar as tarefas, e propõem caminhos baseados na cooperação cotidiana, na ajuda mútua e em novas formas de provisão coletiva, ligadas ao conceito de luxo público: uma infraestrutura compartilhada, gratuita e de alta qualidade que alivia a carga doméstica e eleva a qualidade de vida.
A socialização do cuidado foi uma bandeira do feminismo socialista, com Hester e Srnicek resgatando a experiência das comunas soviéticas como um “momento notável de experimentação” frente ao modelo de habitação unifamiliar.
A expansão do subúrbio estadunidense após a Segunda Guerra Mundial consolidou um modelo oposto, com a habitação unifamiliar tornando-se um símbolo de sucesso e de “refúgio contra o comunismo”.
Hester e Srnicek rejeitam a ideia de que a desigual repartição de tarefas possa ser resolvida apenas ampliando a participação das mulheres no mercado de trabalho, o que equivale a “trocar uma forma de sujeição por outra”.
A casa funciona como uma tecnologia produtora de subjetividade, induzindo conformidade política através de distrações individualizadas. Eletrodomésticos “inteligentes”, ambientes controlados por dados e objetos conectados são dispositivos capitalistas desenhados para extrair lucros, informação e controle.
Nesse contexto, identifica-se uma lógica de “realismo doméstico”, que impede imaginar modos alternativos de vida no espaço privado, onde as rotinas de cuidado privatizado sustentam a reprodução social do capital.
Embora os autores defendam a necessidade de transcender a relação capital/trabalho, não especificam como essa transformação poderia ser alcançada, e a orientação política se torna mais ambígua.
Os autores preferem falar de pós-capitalismo em vez de comunismo, defendendo uma reconfiguração institucional de grande magnitude, sem uma reflexão clara sobre o papel do Estado nem sobre os sujeitos sociais capazes de protagonizar a mudança.
A sociedade pós-laboral é entendida como um “processo prometeico interminável para ampliar o âmbito da liberdade”, com as reformas propostas sendo passos intermédios, orientados a preparar o terreno para uma socialização mais ampla do trabalho doméstico.
A proposta de luxo público é sugestiva, mas se imagina dentro de lógicas que não confrontam diretamente as estruturas de poder que perpetuam a desigualdade.
Ainda com estas limitações, o livro oferece uma leitura do lar como braço da exploração capitalista e da opressão de gênero, historiza práticas cotidianas que costumam ser naturalizadas, e formula perguntas de enorme atualidade.